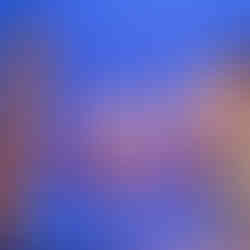Em clima de final de BBB, relembre entrevista com fundadora da Edisca
- Robson Braga
- 21 de abr. de 2025
- 53 min de leitura
Atualizado: 22 de abr. de 2025
Estudantes de Jornalismo da UFC conversaram com Dora Andrade em 3 de outubro de 2019; projeto social já formou centenas de bailarinos, a exemplo da fortalezense Renata Saldanha, uma das três finalistas do reality show

Esta é a primeira vez que uma participante cearense chega à etapa final do Big Brother Brasil (BBB), reality show da TV Globo. Nesta terça-feira, 22 de abril, a bailarina Renata Saldanha irá disputar o prêmio de R$ 2.720.000, concorrendo com o salva-vidas de rodeio goiano João Pedro e o fisioterapeuta pernambucano Guilherme Vilar.
Em meio à possível vitória da cearense e em clima de retrospectiva sobre sua trajetória, o curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC) relembra a entrevista que realizou em 2019 com Dora Andrade, fundadora da Edisca, projeto social que transformou Renata na bailarina e cidadã que hoje se apresenta ao Brasil.
Nascida no bairro Barroso, na periferia de Fortaleza, Renata ingressou na instituição em março de 2000, aos oito anos de idade. Foi ali que, 25 anos atrás, conheceu a amiga Eva Pacheco, com quem entrou no “BBB das duplas" em 2025.
Renata entrou no corpo de baile da instituição em 2005. Em 2010, deixou de ser aluna para tornar-se professora, mantendo-se na função até 2020.
Ao longo de 15 anos, a finalista do BBB atuou como bailarina nos espetáculos Demoaná (2005), Urbes Favela (2006), Sagrada (2011), Só (2012), Paideia (2013), Religare (2015) e Jangurussu (de 1995, mas reapresentado em 2016).
Renata graduou-se em Educação Física na faculdade Estácio, por meio do Fies, atuou como professora de balé da própria Edisca e hoje, aos 33 anos de idade, é professora de dança e coordenadora de uma escola de ginástica rítmica.
Confira, a seguir, a entrevista realizada com Dora Andrade em 3 de outubro de 2019, na sede da Edisca, em Fortaleza.
*Imagens: Arquivos Edisca / a instituição possui autorização dos responsáveis para a divulgação de imagens de crianças e adolescentes atendidos pelo projeto
Determinação que transborda
Entrevista concedida por Dora Isabel de Araújo Andrade à Revista Entrevista, produto do curso de Jornalismo da UFC, em 3 de outubro de 2019, na sede da Edisca, em Fortaleza

Equipe de Produção: Calianne Celedônio e Gambit Cavalcante
Entrevistadores: Alexia Vieira, Francisco Félix, Davi César, Eduardo Laurindo, Gambit Cavalcante, Calianne Celedônio, Suyane Lima e Renan Moreira
Fotografias: Yohana Capibaribe
Professor supervisor: Robson Braga
Texto de abertura: Gambit Cavalcante
Poucas mulheres trazem na fala a segurança que Dora transmite. Foi assim desde o momento em que entrou no ambiente: um sorriso no rosto, pés calçados em sandálias rasteiras, uma roupa confortável – estava à vontade. Os cabelos muito curtos, como que raspados há pouco tempo. Ela sorri, cumprimenta o grupo de estudantes, serve sua própria água e senta.
O olhar de quem já imagina tudo o que lhe vai ser perguntado. Quando é revelado que a entrevista seria sobre sua vida, e não somente sobre o projeto Edisca, ela se surpreende. Modéstia! Responde com infalibilidade a qualquer questão que lhe é feita.
Ao que aparenta, a menina Dora já trazia essa segurança de atitude desde sempre. Nascida em março de 1959, teve, já na infância, a liberdade de expressar seu modo de fazer arte. Montava coreografias com os colegas quando criança. Chegava a cobrar ingresso dos amigos para assistirem à apresentação de slides que fazia com o antigo projetor do pai. Filha de um advogado e de uma artista plástica, começou a praticar dança aos dez anos de idade. Aos 31, fundou o projeto Edisca. “Foi um acidente em minha vida”. Parece difícil acreditar.
Dora expressa tudo o que diz com uma naturalidade impecável. Leva a conversa pelo caminho que a satisfaz. Sabe o que está dizendo. Mas não soa manipuladora. Decidida, isso sim. Emociona-se quando fala dos seus estudantes. Relatos de luta. Muitas vitórias, algumas perdas. Os olhos ficam marejados quando lembra daqueles a quem não conseguiu resgatar – mas não somente. Também se emociona quando fala dos que chegaram a lugares que antes nem imaginavam que pudessem acessar.
Dona de si, decidiu cedo que seria bailarina. E foi. Não considerava que tinha o corpo de uma pessoa da dança. Pouca estatura, curvilínea, não enxergava nela mesma a figura de bailarina que trazia no próprio imaginário. E não deixou que isso se transformasse em impedimento. Teve aulas de dança em Brasília, nos Estados Unidos e em Paris. Fundou a própria companhia de dança quando voltou a Fortaleza. Ainda não sabia que a mudança em sua vida iria acarretar mudanças na vida de tantos outros.
A Escola de Dança e Integração Social para Crianças e Adolescentes – a Edisca – é seu maior projeto. Toma até mais tempo de sua vida do que a maternidade. É mãe de duas meninas. Adotadas, faz questão de ressaltar. “Chegaram pra mim com dois dias de nascidas”. Acredita que a experiência da maternidade foi algo transformador em sua vida. Arrepende-se um tanto por não poder dedicar-se às filhas o quanto gostaria. Há muitos outros de quem cuidar. Isso também a emociona. Mas não parece desconfortável.
É assim na condição de pessoa, de mãe, de professora. Trata os alunos com pulso firme. Orgulha-se deles, mas sabe o quanto é rígida. Não a rigidez cruel, de quem poda, limita. A rigidez de quem cuida, protege. Da capacidade de reconhecer o potencial de quem está sob sua conduta.
Apaixonada pela família, agradece a ela pela existência da escola. Foi com a mãe e a irmã que iniciou o projeto. Era a própria mãe quem fazia a sopa para alimentar as primeiras crianças. Ainda hoje, é com a família que trabalha. Assim como cresceu, no terreno grande que pertenceu ao avô, onde as tias construíam as casas conforme iam se casando.
Reconhece os privilégios que teve. Sabe o quanto foi feliz por estar rodeada de pessoas que lhe incentivaram pelo caminho das artes. E assim permanece: ao lado dos irmãos e da mãe. “Minha mãe é a grande culpada por tudo isso!”. Com os irmãos, sente que se completa – com uma nas finanças e outro na dança.
Cultiva o sonho de ter tempo. Se tivesse seu dia trinta horas, ainda não daria conta de tanto a se fazer. Um paradoxo, pois, da aposentadoria, quer distância. Morreria trabalhando, se pudesse. Carregada, até os últimos dias, pela mesma determinação que a trouxe até onde está.

Calianne – Quando a gente falou com seu irmão, ele disse que vocês viveram rodeados por uma espécie de vila familiar. Você acha que isso agregou, de alguma forma, positivamente à sua infância?
Dora – Eu acho que na minha infância e na de qualquer pessoa, né? Eu tenho duas filhas. A minha segunda filha foi para uma creche com seis meses de vida. Eu deixava na creche e saía chorando pro trabalho. Um dia, eu cheguei, ela ficou em pé na minha frente e eu caí dura pra trás. A menina já fazia isso [ficar em pé] há uma semana e eu não tinha visto, porque, como eu pegava ela no fim do dia, ela já vinha praticamente dormindo. Era a vida que eu tinha.
Então, comparar o que eu pude oferecer às minhas filhas... Porque eu tinha muito medo de deixar ela em casa sozinha com uma babá e ser maltratada. Eu fui mãe solteira e era o que eu podia fazer, o que eu achava que estava protegendo melhor. Mas não pode se comparar ao que eu pude oferecer a elas com o que era na minha época. Minha avó supervisionava. Nossa casa era meio um clã mesmo. Tinha as casas separadas, mas os quintais eram emendados. Então os primos brincavam com primos. E, mesmo tendo uma secretária na casa, tinha minha avó — que era uma grande matriarca — que supervisionava o trabalho de todo mundo, cuidava, orientava, ensinava lição... Quer dizer, era um luxo que hoje, infelizmente, a gente não tem mais como oferecer.
Agora, para além dessa circunstância de infância, dessa rede de proteção que vai com a proximidade dos avós, eu acho que meu pai e minha mãe... Essas figuras que eram muito — eu diria — diferentes, talvez até à frente de seu tempo, porque eram pessoas que valorizavam muito o conhecimento, a arte, a ciência. Eu morei num bairro periférico, no Panamericano [em Fortaleza, Ceará], e a minha casa tinha coisas inimagináveis. Tinha um laboratório de química, tinha um laboratório pra revelar fotos, meu pai tocava clarinete, pintava, e minha mãe também pintava, escrevia poemas, era colagista, professora de História da Universidade Federal [do Ceará, a UFC].
Eles tinham muitos amigos artistas. Então, havia uns saraus na nossa casa. E eu acho que isso foi muito mais importante do que essa coisa coletiva. Acho que essa vivência mais nuclear, vivenciada na nossa casa, foi determinante pra uma série de coisas.
Gambit – Você acredita que esse ambiente no seu núcleo familiar, que era essencialmente artístico, te influenciou na escolha de viver de arte?
Dora – De certa forma, sim. Eu sempre gostei de arte, meus pais gostavam, e iniciei meus estudos de dança com 10 anos, ainda criança. Mas nunca imaginei que a minha vida... Meu pai detestava a ideia de que eu seria artista. Ele não gostava dessa ideia.
Meu pai me criou desejando que eu fizesse Instituto Rio Branco [escola de formação de diplomatas recém-admitidos na carreira, após aprovação em concurso público federal]. Ele imaginava que eu ia fazer Direito, tinha uma trajetória idealizada pra mim. E foi profundamente frustrante pra ele a minha debandada nesse rumo, porque eu me apaixonei pela dança. Quis fazer curso superior de dança em Salvador — na época, só havia lá — e ele não permitiu. Aí eu fiz Educação Física, o que foi uma tragédia. Larguei a faculdade na cadeira de futebol. Enfim, não era nada daquilo.
Depois, eu descobri a coisa do social. E meu pai arrancava os cabelos comigo, porque eu vivia dentro de favelas, vivia dentro de asilos. Aos 17 anos, eu fazia partos de mulheres indigentes. Eu tinha um grande amigo que fazia Medicina e me convidou pra assistir a um parto. O médico... Quando você faz parto, você espera uma contração forte pra fazer um pequeno corte no períneo, pra facilitar, prevenir ruptura. E isso é uma coisa que todo mundo faz, e a mulher realmente não sente. Mas o cara cortou [o períneo] sem esperar a contração e ainda falou: “Na hora de fazer [sexo] é 'ai, ai, meu filho', e agora é 'ai, ai, doutor'?”. Eu fiquei revoltadíssima com aquilo.
Aí fiz um curso de parteira e passei um ano fazendo parto de mulheres indigentes. Isso não tinha nada a ver com o Edisca, mas minha mãe foi a primeira mulher que foi diretora do Asilo de Mendicidade. Eu sou PhD em tirar bicho de pé, sei fazer curativo superbem — me perdoem a falta de modéstia, mas é verdade — porque todos os domingos, por uns três anos, eu passava o dia inteiro dentro de um asilo de idosos. Eu cuidava, tirava bicho de pé, fazia curativo, cortava cabelo, enfim...
Minha vida não era exatamente comum. Minhas amigas iam para boates, discotecas — era essa a época — e, enquanto elas faziam isso, eu estava fazendo parto ou cuidando de idosos. Então, eu também fui um serzinho um pouco estranho no meu meio.
Gambit – Fora da curva...
Dora – Um pouco, né? Mas eu gostava demais. E fui mudando, assim... Meu destino não poderia ser traçado pelo meu pai. Eu fui criada pra ser uma mulher muito livre — pelos dois. E acabou que eu fiz da minha vida o que eu queria fazer. Mas foi muito frustrante. Eu sabia que ia sofrer pra caramba. Você imagina o que é optar por viver de arte e do social? Acho que são dois desafios muito pesados.
Gambit – No documentário a que a gente assistiu, tem um depoimento da sua mãe falando que, quando resolveu te colocar no balé, ela já sentia um certo preconceito, tipo: “Ah, por que colocar pra dançar? A que isso leva?”. Você sentiu isso quando optou pela arte, pela dança?
Dora – Não exatamente. Sentia isso quando eu saía do Brasil e falava, por exemplo, que era bailarina e brasileira. Eles nunca imaginavam que eu fazia curso de dança clássica ou contemporânea. Imaginavam que eu dançava lambada.
Então, eu vi muito mais esse olhar do estrangeiro sobre as mulheres que dançam do que aqui. Meu avô achava terrível. Uma vez, eu estava me alongando em casa, fazendo um exercício de flexibilidade, e minha avó ficou louca, achando que eu podia perder a virgindade com aquele “arreganhamento” [risos]. Era muito engraçado isso, porque era tudo muito novo na época. Não era uma vivência comum. Meus avós eram pessoas muito simples e não entendiam muito bem o que aquilo poderia causar.
Davi – Dora, você falou sobre esse passado que a gente nem conhecia — essa coisa do parto, da convivência com as artes —, mas eu queria saber se houve um momento específico ou momentos em que virou a chave de: “Poxa, é a dança que eu quero seguir, é isso que eu quero como legado”.
Dora – Na verdade, não era a dança. A dança foi... assim... Eu detesto essa coisa da instrumentalização da arte — não pratico isso —, mas posso dizer que a dança foi um instrumento, um caminho pra eu chegar ao que considero, de fato, o sentido, a missão que eu trouxe comigo quando vim pra esse mundo: o social.
Na verdade, me frustrei muito com a dança. A dança é uma linguagem extremamente exigente. Eu nunca tive um bom físico para a dança. Meu tipo é cabocla. Sempre tive busto grande, perna grossa, bunda grande. E se imaginava, até um tempo atrás — e ainda tem um pouco —, que as bailarinas clássicas são quase etéreas, umas ninfas... um negócio do qual eu estava a anos-luz de distância. Jamais alcançaria isso.
Então, a dança contemporânea foi uma redenção pra mim. Foi quando comecei a curtir mais, a ter mais prazer com a dança, porque era uma linguagem que permitia corpos diversos. Me identifiquei muito, por exemplo, com o trabalho da Pina Bausch [coreógrafa, dançarina e diretora de balé alemã]. Eu via mulheres maduras, homens calvos... e isso me animava, porque eu não aceitava uma dança tão preconceituosa, tão ditadora, tão cheia de limites.
E era um troço que gerava tanto prazer que precisava ser compartilhado por mais pessoas. Estou falando da vivência mesmo, não só da fruição. Meu trabalho, desde o começo, acho que foi o de levar a dança para lugares não convencionais, fora dos teatros, fora dos palcos habituais.
Já dancei pra retirantes, já dancei dentro de assentamentos na seca, já dancei na beira da praia pra pescador... pra todo tipo de pessoa, tá entendendo? Porque eu acreditava muito nisso. E também, na minha companhia de dança, que era muito pequena, eu acho que peguei os bailarinos “malditos” — aquelas pessoas que, anteriormente, seriam vistas como corpos que não poderiam dançar. Essa coisa ditadora me irritava muito. Talvez porque me feriu muito. Me frustrou demais.
Então, a dança foi, sim, algo muito importante pra mim. Mas a coisa mais importante na minha vida é o fazer social. E foi ali que encontrei meu lugar ao sol — e à sombra —, como é devido a todo filho de Deus, né não?

Gambit – Esse acesso que você teve a um certo capital cultural quando você era criança — arte, livro, música — de maneira geral, dá pra dizer que você teve uma infância privilegiada nesse sentido?
Dora – Com certeza. Tu sabes, de forma alguma querendo fazer comparações, mas assim… eu tenho 28 anos de trabalho com o social, ininterruptos, e já fui milhões de vezes visitar comunidades, lares, fazer entrevistas — e a aridez nas casas é uma coisa que me impressiona muito. Eu estive agora, recentemente, há um ano, no Jangurussu [bairro periférico de Fortaleza] e não muda. É a mesma coisa. Você andar vários quarteirões e não ver uma árvore, não ver uma planta, não ver uma flor, você não vê nada. Se você entra nas casas, você não vê uma página de jornal, uma revista, um gibi. É a essa aridez que eu me refiro.
Então, assim… imaginar uma casa, uma rua, um bairro, um quarteirão sem essas coisas… acho que é uma aridez extrema. É muito difícil brotar algo daí. E a infância, sobretudo, é muito fruto do estímulo — do que ela ouve, do que ela vê, do que toca. E então, nesse sentido, eu tive, sim, uma infância e uma adolescência extremamente privilegiadas.
Eduardo – Em se tratando de espetáculos, qual é o seu favorito, criado pela Edisca? Como ele foi criado?
Dora – Eu não tenho favorito. Eu sou meio leviana. Eu sempre estou muito apaixonada pelo que eu estou envolvida no momento. Eu acabei de estrear um espetáculo chamado Estrelário, gosto muito dele, achei que ele foi muito bacana.
Mas eu não posso, por exemplo, deixar de falar do Jangurussu [espetáculo de 1995 sobre a realidade das famílias que sobrevivem dos aterros sanitários, catando resíduos para sobreviver]. É um marco na minha trajetória e na história da Edisca.
Quando eu cheguei para a minha equipe e disse que o espetáculo que eu ia fazer era sobre o aterro sanitário da cidade, eles falaram: “Interna!”. Porque… como assim? Parece muito fácil quando você vê o balé realizado no palco, mas antecede a isso uma série de coisas. Para mim, o que antecedeu a isso foi um senso de responsabilidade, de ética imenso, porque eu iria tornar público, visível, assinado por mim, uma circunstância de extrema vulnerabilidade — circunstâncias humilhantes de pessoas que moram no meu quintal.
E eu levei a galera todinha para o teatro e estava morrendo de medo de como eles iriam olhar, porque eu passei um mês internada no Jangurussu. Eu não morei lá, eu não dormia lá, mas eu ia todos os dias de manhã e ficava com eles até o final da tarde. Então, quer dizer… eu gostava daquelas pessoas, eu respeitava de uma forma profunda aquelas pessoas e a circunstância delas também. Mas era tão grave… e eu convidava as pessoas. Eu tenho poucos, mas eu tenho amigos assim, que têm um pouco de dinheiro ou algum poder, e eu imaginava que eu tinha que levar essas pessoas lá para ver — mas ninguém queria ver. Como ninguém ia até o Jangurussu, eu resolvi levar o Jangurussu até as pessoas.
Porque a coisa mais impactante nesse processo todo foi a constatação da minha ignorância. Achei um absurdo. Como eu não sabia que tinha gente vivendo daquele jeito? E eu não sabia.
“Quando eu cheguei para a minha equipe e disse que o espetáculo que eu ia fazer era sobre aterro sanitário da cidade, eles falaram: ‘Interna!’”
Eduardo – Como foi a recepção desse espetáculo?
Dora – Acho que muito boa, até hoje. O Jangurussu foi feito 26, 27 anos atrás, sei lá, muito tempo atrás, e, quando a gente remonta, a gente remonta há uns três anos. Eu gosto ainda. Eu não faria mais desse jeito, é claro, porque a gente amadurece, a gente se revê, mas ele ainda me agrada do ponto de vista coreográfico, conceitual. Ele me emociona ainda e emociona muito o espectador.
Mas eu lembro muito... Teve um menino que ficou muito próximo de mim lá. Ele era muito novo, mas já era pai. E eu lembro que ele foi um dos que eu levei para o espetáculo, e, quando acabou, ele veio chorando muito e me abraçou. Esse menino, por exemplo, ele nasceu aqui [Fortaleza], ele não era do Sertão, e nunca tinha visto o mar.
Porque tem um fenômeno nessas regiões de extrema pobreza: ela vira uma espécie de prisão sem muros, sabe? As pessoas não circulam, elas vivem ali o tempo inteiro, parece que não existe mais nada. E ele me abraçava muito forte e me disse: “A minha vida, Dora, foi desse jeito, mas a do meu filho não vai ser”. Então o espetáculo foi, de certa forma, um espelho para a comunidade. Eles se viram.
Félix – Dora, eu queria ficar um pouco ainda na sua infância. Você falou dos seus pais, e eu queria saber da sua relação com seus irmãos. Eles lhe influenciaram e influenciam? Como foi a convivência com eles e como é conviver com eles? E se tem alguma história engraçada que você viveu com eles e que marcou sua infância.
Dora – Nós somos cinco, né? E eu sou a mais velha das mulheres. Tem o Gilano, que é meu irmão mais velho, depois o Marcos, depois o Hemetério e depois a Cláudia, que é a mais nova. A Cláudia é minha alma gêmea, sou absolutamente convicta disso. Ela é dez anos mais jovem que eu, e eu cuidei muito dela. O primeiro banho dela, quem deu fui eu.
Morria de ciúmes nos primeiros momentos, porque toda atenção da casa foi para ela – aquela derradeira menina que ninguém mais esperava. E hoje ela é, muitas vezes, a minha mãe, cuida da minha cabeça, do meu juízo. Ela foi fundamental na minha vida em todos os aspectos. Eu sempre fui muito família, ajudei muito minha mãe a criar os meus irmãos. Minha mãe trabalhava os três expedientes, e meu pai também. Então, eu com 12 anos lavava rede. Aprendi a cozinhar muito cedo, sei limpar uma casa muito bem, faço crochê, tenho algumas habilidades. Não as uso muito porque não tenho tempo, mas até gosto. Tenho uma máquina de costura em casa.
Então, assim, eu matriculava meus irmãos menores. E isso é um aspecto dessa coisa, dessa cultura nossa machista. Como eu era a mulher mais velha, era eu sim que estaria na vez de levar para vacinar, de levar para a escola, fazer fantasia para o carnaval, essas coisas.
Sempre fui muito ligada a eles, sempre me senti muito responsável em apoiar minha mãe – sobretudo depois que ela se divorciou. Minha mãe foi a primeira mulher a se divorciar das duas famílias, e foi uma coisa meio que pesada, foi quase um escândalo familiar. E aí nós saímos do bairro – também foi o primeiro núcleo familiar que saiu do bairro – e fomos morar fora. Naquela época, ser filha de uma mulher divorciada era pesadíssimo, era um negócio, assim, anormal.
Minha mãe foi bárbara, e eu era muito comprometida a ajudá-la na tarefa de cuidar dos meninos. Acho que eu não tive uma infância exatamente de muita brincadeira. Eu tive uma infância pobre. Eu brincava com um sabugo de milho... sabugo de milho, não – espiga de milho, que tem aqueles cabelos. Aquilo era minha boneca de cabelo. Brincava de casinha no quintal.
Eu me considero uma pessoa criativa. Acho que teve muito a ver com a escassez que eu passei na infância. Na adolescência, meu pai estava melhor de vida, mas na infância foi muito desafiador. Então, eu era capaz de imaginar uma boneca fantástica com uma espiga de milho, e isso foi bem legal.
Eu não sei se tenho uma... não me ocorre agora um episódio engraçado. Tenho um episódio que considero mágico e que marcou também muito a minha vida – e eu faço isso até hoje.
Meus pais estavam construindo a nossa casa. Ela foi construída aos poucos, aos módulos. Fazia uma parte, depois outra, porque a gente não tinha dinheiro para fazer tudo de uma vez. E tinha uma montanha de areia grossa, e à noite minha mãe fazia um buraco na areia, colocava um lençol e se deitava. Na época, a Cláudia não tinha nascido. Ela colocava dois meninos de cada lado, e a gente ficava deitado olhando o céu, com lua, estrela... E ela brincava com a gente assim, para a gente criar no céu, porque a tela tinha que ser do tamanho do céu, os sonhos da gente. E pedia que a gente contasse com detalhes como é que seria. Poderia ser qualquer coisa.
Esse exercício era fantástico. E, de certa forma, não combinada, acho que tinha quase um desafio entre mim e o Gilano, por exemplo, que eram os mais velhos – qual mais ousado era o sonho, qual mais detalhado.
E, cara, outro dia eu estava conversando – outro dia, digo, tem alguns anos – com uma mulher mais ou menos mística, e ela falava mais ou menos disso: do quadro mental, de você visualizar seus desejos, de você descrever esses desejos com detalhes. É quase uma coisa mágica, que faz transformar a realidade. E a minha mãe fazia isso quando eu tinha 6, 7 anos, eu acho. Tenho vívida na minha memória essa experiência.
Minha avó dizia que eu era a menina mais mentirosa que ela conhecia na vida dela, porque eu nunca aguentei a vida do jeito que ela era. Como eu achava a vida muito chata, muito maçante, tudo que eu ia fazer, eu inventava uma conversa, uma história mais bonita. Eu botava coisas que eu achava que faziam ficar mais interessante, porque dizer que eu levantei, fui para a escola... aquilo, para mim, era enfadonho demais. Então, eu vivia inventando conversa.

Alexia – Dora, você fala muito da relação que você tinha com as outras mulheres da sua vida – sua mãe, sua avó, sua irmã. Como isso molda a mulher que você é hoje? Como as pessoas que não fazem parte desse meio – as outras mulheres que não são desse núcleo, como as mulheres que você fez os partos – também te moldaram?
Dora – Com relação à minha descendência – minha avó, minha mãe – acho que eu tenho muito a ver com elas. Para começar, são mulheres muito fortes. Minha avó era fortíssima.
Mas acho também que ela flexibilizou muito com a gente. Minha avó era, obviamente, muito careta para a nossa geração, para a minha época, mas a gente se gostava muito. Então, eu cometi todas as rupturas das mulheres da minha época: fui morar fora do país muito jovem, morar sozinha muito jovem. E ela, por gostar de mim, passou a aceitar e não censurar as minhas opções. Isso trouxe muita beleza à nossa relação, porque ao mesmo tempo em que eu via coisas de extremo valor que foram incorporadas na minha vida, à minha forma de estar nesse mundo, ela também teve força, altivez para me compreender, me aceitar como eu era – e confiar também.
Acho que tinha essa coisa de confiar, muito grande. A minha geração foi muito marcada pela questão da sexualidade. Casar sem estar virgem, usar anticoncepcional... eram coisas que tinham muito a ver com as mulheres da minha geração. E foi muito bom estar numa família onde isso não era exatamente um tabu. Era algo percebido de uma forma natural.

Renan – Na sua infância ou na sua adolescência, você disse que saiu muito cedo para morar fora. Qual foi a sua maior frustração?
Dora – Não sei. Não tenho frustração, não. Assim, ter ido para os Estados Unidos foi muito difícil, ter morado em Paris foi muito difícil... francês é difícil, tá entendendo? Ser imigrante, ser estrangeiro é muito difícil. Eu não falo francês, me comunico mais ou menos em inglês, mas não falava nada em francês. Então, assim, eram circunstâncias não muito confortáveis, mas não acho que teve frustração. “Fi-lo porque qui-lo”, tá entendendo?
Davi – Muita gente romantiza a vida nessas cidades, Paris, ou então países como os Estados Unidos. Por que foi estranho para você nesse aspecto? Queria que você detalhasse mais a sua experiência lá.
Dora – Não, eu não romantizo isso, não. Por exemplo, já tem alguns anos que não tenho nenhum interesse em ir para a França, ou Nova Iorque, ou para a Inglaterra, sabe? Eu já viajei muito na minha vida. Mas me animam muito as últimas viagens que eu fiz. Eu fui para a Indonésia — foi uma viagem extraordinária. Fui para a Índia, fui para o Nepal. Essas viagens, esses povos, essas culturas me interessam muito mais.
A não ser que seja viagem de trabalho — já viajei muito trabalhando, com os espetáculos da Edisca. Já dancei três vezes em Paris, na Áustria, na Alemanha, na Itália, em Nova Iorque. Por trabalho, obviamente, eu vou. Mas, assim, a minha opção, se eu tiver que comprar um ticket, se eu tiver que comprar uma passagem, jamais será para esses lugares. Será para esses últimos que eu fui, que de fato me... adorei, maravilhoso, me transformaram.
Gambit – Eu vou trazer uma questão que provavelmente é muito clichê e você já deve ter falado sobre isso milhões de vezes, mas é muito difícil a gente falar da sua trajetória sem passar por isso, que é a sua convivência com o Hugo Bianchi (primeiro professor de dança de Dora). Olhando de fora agora, a gente percebe a importância que ele teve para a dança, mas, quando criança, não sei se essa percepção é muito clara. Então eu queria saber qual era a percepção que você tinha dele como professor na época e se algo do que você aprendeu com ele você traz para o modo de ensinar hoje.
Dora – O Hugo foi, bom, meu primeiro professor de dança e, como diz aquela propaganda, o primeiro professor de dança a gente nunca esquece. Mas o Hugo era muito rígido. Ele dava aula com um bastão de madeira e tocava fisicamente na gente com esse bastão — assim: prende o bumbum, barriga, braço... Ele tinha uma relação mais ou menos distanciada, não havia essa coisa de diálogo. Ele era um homem muito bonito. Quando eu estudei com ele, ele ainda dançava. Eu acho que ele gerava mais admiração do que proximidade como educador. Fantástico, foi marcante, mas nós não tínhamos exatamente um relacionamento muito próximo. Na minha festa de 15 anos, ele mandou rosas para mim — foi a primeira vez que recebi rosas de um homem.
Mas era assim, uma coisa mais idealizada. Reconheço, sou grata pra caramba a ele e a todos os mestres que eu tive, mas não foi ele aquele mestre que mudou a minha vida. O mestre que mudou a minha vida foi um cara chamado Moacir Melo. Há muito tempo eu não o vejo, mas ele era professor de literatura do Farias Brito (escola privada de Fortaleza fundada em 1935). Esse cara mudou a minha vida, me ensinou demais, me inspirou demais.
Alexia – Você procura ter esse diálogo e essa proximidade com os seus estudantes?
Dora – Eu não tenho tempo mais para isso. No início da Edisca, quando a gente atendia 50 crianças e não tinha muitos projetos, eu tinha tempo para estar em sala de aula e, antes ou depois, ficar sentada no chão, pegar menino no colo, pegar piolho 2.942 vezes... Mas a Edisca foi crescendo, e esse crescimento não foi exatamente uma opção — foi quase uma imposição. O crescimento da Edisca tem muito a ver com o que a gente ia percebendo no que as crianças traziam. Se eu começava a dar aula de dança e o menino desmaiava uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes — por uma questão óbvia, eu tive que correr atrás de construir um refeitório e assegurar uma refeição de qualidade.
Quando eu via que os meninos não conseguiam ler uma linha, às vezes sequer ler um número, eu fui atrás de trabalhar português e matemática. Então tentar responder de forma correta às lacunas, às ausências que a gente percebia na vida desses meninos, acabou me tirando de uma coisa que eu gostava muito de fazer. Mas eu não olho isso de forma romântica e ingênua, tipo “ai, que saudade de colocar menininho no colo” — não penso assim.
Eu acho que estou na operação certa, no lugar certo. Eu não coloco mais menino no colo, mas todo santo dia são servidas 400 refeições nessa casa. Todo santo dia meus meninos se transportam com dignidade, com vale-transporte. Eu tenho todo mundo sem cárie. Enfim, eu acho que esse fazer é importantíssimo e coube a mim tocar essa história.
“Mas a Edisca foi crescendo e esse crescimento não foi exatamente uma opção, foi quase que imposição.”
Gambit – Teve alguma história específica que te comoveu de maneira mais especial? Porque é difícil falar de maneira específica, já que no meio de tantas histórias de pessoas que vieram de comunidades, elas todas têm histórias muito parecidas. Mas teve alguma que particularmente te tocou?
Dora – Assim, são 28 anos ininterruptos de trabalho social com comunidades como Jangurussu, Bom Jardim, Santa Terezinha... trabalhando com os mais pobres. É óbvio que eu já vi coisa que até Deus duvida. Não me sinto confortável em falar das tragédias que já vi. Se você fizer uma pesquisa, pode procurar até embaixo do boi: eu nunca publiquei nenhuma foto de uma criança da Edisca suja, dentro da comunidade, sabe? Tinha muita dificuldade com a imprensa internacional porque eles sempre queriam uma coisa dentro dessa pegada — uma foto de bebê num lugar bem troncho, com a menina completamente... Não permito, não admito, não aceito.
Então, assim, eu prefiro falar dos momentos luminosos, dos momentos exitosos, quando eu percebi a força da galera, quando eu vi a superação acontecer, quando eu vi a virada, sabe? Isso me anima, isso eu me sinto muito confortável em falar. Falar do que... Isso aqui é uma coisa proibida, tá entendendo? Eu não olho menino pelo que não tem, não traz, não possui, não fez, não é. Eu olho pelo que tem, pelo que traz, pelo que possui, pelo que conseguiu. Porque é tão difícil, menino... tá tão difícil, sabe? E só piora, é impressionante. Só piora.
“Pode procurar até embaixo do boi, eu nunca publiquei nenhuma foto de uma criança da Edisca suja, dentro da comunidade, sabe?”
Davi – Dora, você falou agora que gosta muito mais de falar dos momentos luminosos, exitosos. Tem algum que te arrepia?
Dora – Cara, um monte. Um monte. É outra coisa que eu aprendi também nessa jornada: eu celebro as pequenas conquistas. Eu optei por trabalhar com pessoas que, eminentemente... Olha, hoje mais de 70% das crianças, adolescentes e jovens que eu atendo estão abaixo da linha da pobreza. São pessoas que não acessam sequer três refeições por dia. Esse dado é muito sério, muito grave, e dá a qualquer mané a possibilidade de compreender que mais coisa deve faltar na vida dessa pessoa. Então eu preciso de alimento, assim, preciso alimentar meu espírito, minha alma, para essa luta que não é fácil. E não existem, toda hora, grandes episódios. Então eu aprendi a celebrar e a encher minha alma de sentido com pequenas conquistas.
Se eu fosse desenhar um gráfico de desenvolvimento dessa criança nessa circunstância — onde a grande maioria tem parentes muito importantes em conflito com a lei, privados de liberdade — a problemática é tão séria... O gráfico de desenvolvimento não é uma linha ascendente rumo ao alto, não. É uma coisa talvez meio helicoidal, que você olha e tem hora que parece que o menino voltou para o mesmo lugar. Mas ele não está no mesmo lugar, ele está um pouquinho acima. Aí ele sobe, tem alguma coisa, cresce, e depois tem alguma outra coisa... Porque é dificílimo. A vida é duríssima.
Eu já estive com adolescente que chegou ao ponto de dizer: “Eu desisto!”, “Eu não vou mais!”, sabe? “É todo mundo fazendo coisa errada e eu segurando, eu não aguento mais.” E ela se ferrou quando desistiu. Eu já perdi menino. Já perdi, sabe? Perdi poucos, graças a Deus, mas é muito duro quando a gente perde.
Então, assim, cara, eu vou dizer milhões de coisas. Quando eu vejo um menino ler a primeira frase sozinho na minha frente, para mim é uma conquista gigantesca. Quando eu botei o primeiro dentro da universidade, eu quase morri. Quando se formou o primeiro, eu quase morri. Quando o primeiro fez o mestrado, eu quase morri. Quando eu estou nos bastidores abrindo um espetáculo, eu fico louca, porque vejo ali uma série de elementos importantíssimos que envolvem dignidade, que têm a ver com habilidades que te permitem se inserir no mundo produtivo de forma digna. Tu tá entendendo?
Então eu vejo um monte de coisa que me abastece, que me dá energia para seguir todo dia. E vejo também um monte de coisa que eu sei que vai deixar o meu caminho mais pesado. Essas aí, eu abstraio.
“Eu já perdi menino. Eu já perdi, sabe? Perdi poucos, graças a Deus, mas é muito duro quando a gente perde.”
Suyanne – Queria perguntar uma coisa: você acha que as coisas estão melhorando? Se você vê que os que estão chegando agora estão melhores… Mas você disse que só tem piorado. Por que você acha que isso acontece?
Dora – Amiga, pelo amor de Deus, me faz outra pergunta. Olha, eu vou te dizer uma coisa: a gente vive num país muito desigual. Fortaleza é uma cidade extremamente desigual. Esses últimos anos têm sido de uma recessão... Olhe, vou te contar o que acontece nesses, diria, oito anos. Havia um forte investimento estrangeiro de organizações, organismos estrangeiros no Brasil. Quase 100% dessas organizações se retiraram do país, porque eles reconhecem que o Brasil tem problemas seríssimos, sim, mas também possui capital intelectual e econômico para lidar com seus próprios problemas. Começaram a investir na África por questões óbvias e também em lugares de grandes catástrofes — terremotos, maremotos, e por aí vai.
As empresas que tinham uma cultura de investir no social ou nas artes, através das leis de incentivo, faziam isso quase que exclusivamente por esse meio. É muito difícil você encontrar um empresário que tire do bolso 100% do investimento. No caso da Edisca, é 100% via isenção. Muitas dessas empresas — e eu não falo só do Ceará, falo nacionalmente — começaram a criar seus próprios institutos e fundações, e passaram a investir nelas mesmas.
Também começou a eclodir milhares de organizações sociais que competem entre si. E o terceiro setor virou uma vala comum. Para você ter noção, a Edisca, o Ceará Sporting Club e a Associação de Bairro do Acaracuzinho estão todos na mesma vala.
Então, são vários fatores... Eu poderia citar mais uma série de questões que complicam muito. Mas, por último, vou te dizer: este ano certamente foi minha pior performance na captação por meio da Lei Rouanet (política de incentivos fiscais que possibilita empresas e cidadãos aplicarem uma parte do Imposto de Renda em ações culturais), porque o atual presidente (Jair Bolsonaro) desmoraliza essa lei desde a campanha.
Houve uma má utilização da lei? Certamente houve. Nada está acima do bem ou do mal — em todo lugar acontecem coisas absurdas. Mas generalizar artistas como vagabundos, tratar a utilização da lei como mamata… Isso complicou muitíssimo. Então repare: quando você pensa em mim, mulher, nordestina, trabalhando com arte e com o social… é a palavra mágica ao contrário, sabe? Tá tudo muito, muito, muito complicado.

Gambit – Eu vou aproveitar esse gancho que você fez para dar um salto cronológico bem grande e trazer para a nossa contemporaneidade. Nos últimos anos, a gente tem vivido uma enorme desvalorização da arte. Como é que você enxerga esses tempos?
Dora – Tempos obscuros, eu acho. Acho que a gente vive momentos que certamente vão determinar retrocessos — não só no campo das artes, do fazer cultural e artístico do país, mas também na ciência, na educação, nas lutas por equidade para grupos minoritários. E daí eu falo de mulheres, de gays, de...
Gambit – De negros…
Dora – De negros… Enfim, é um momento muito estranho. Acho que a gente nunca teve um governo tão conservador. Acho… não sei… é preocupante. E com certeza iremos pagar um preço muito alto.
“Quando eu vejo um menino ler a primeira frase sozinho na minha frente, para mim é uma conquista gigantesca.”
Gambit – Eu perguntei isso porque você usa a arte como agente transformador na vida das pessoas e provavelmente entende a importância da arte nessa transformação.
Dora – É… Mas eu não acho que o papel da arte transforme a vida só dos pobres, não. Eu acho que a arte, uma vivência consequente em arte, transforma a vida de qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, de qualquer camada social.
Eu, particularmente, não posso aceitar que uma educação de qualidade se restrinja a estudar conteúdos. A pedagogia da Edisca… olha que coisa interessante: com a gente aconteceu diferente. Eu não sou da academia, sou uma mulher realizadora, de fazer. E a gente cruzou com um homem importantíssimo. Esse homem foi um divisor de águas na instituição. O nome dele é Antônio Carlos Gomes da Costa — meu amigo pessoal, foi conselheiro da Edisca, padrinho da minha primeira filha.
O Antônio era um pedagogo, um dos maiores especialistas em educação. Foi um dos redatores do Estatuto da Criança e do Adolescente (conjunto de normas jurídicas brasileiras que têm como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente), e ele conceituou nossa prática. Normalmente, as práticas advêm de um conceito, de uma pedagogia. Ele fez o contrário.
E aí a gente trabalha com educação interdimensional. Essa educação vem inspirada na paideia grega, onde se percebia e se trabalhava pelo menos quatro dimensões do humano.
O logos, presente no nosso processo educativo, tem a ver com o conhecimento formal — com a matemática, com a lógica. Mas a gente também tem o pathos, que tem a ver com a capacidade relacional das pessoas. Daí vêm as palavras empatia, simpatia, antipatia.
Aí tem também o eros, que é a dimensão da paixão — aquela força vital que as pessoas têm para se mexer, se mover, realizar. E tem o mythos, que é a dimensão da espiritualidade. Obviamente, a Edisca é uma escola laica, mas é uma escola onde a espiritualidade também é levada a sério.
Então, foi redentor ver uma pessoa da qualidade teórica do Antônio olhar nossa prática e conceituar o que a gente estava fazendo. E é nesse tipo de educação que eu acredito — uma educação onde essas dimensões são trabalhadas, sabe?
Eu vejo pessoas que são geniais, absolutamente geniais, dominam milhões de coisas e não conseguem trabalhar porque não conseguem se relacionar com o outro. Não têm inteligência emocional. O país delas não foi tocado, não foi desenvolvido. Então é assim que eu penso o papel da arte. Eu acho que ela traz esses diferenciais. Ela toca dimensões fundantes do humano.
Eduardo – Pelo menos deve torcer, né?
Dora – É…
Eduardo – Quando você falou de “perder alguns”, esse “perder” envolve o quê? Perder para quê? Para quem?
Dora – Cara, perder mesmo. Perder bravo. Chorar uma semana. Perdi pro crime. Foi assassinado. Mas antes de ser assassinado, foi torturado. Arrancaram todos os dedos. Depois foi amarrado pelos pés e arrastado de moto na comunidade.
Esse menino ficou na Edisca cinco anos. Quando ele saiu, eu mandei correr atrás, trazer o menino. E não consegui mais. Já estava com o pai, já estava catando lixo no Jangurussu e nas redondezas. Se envolveu com o tráfico. Depois eu soube que ele tinha sido preso… E é rápido! É rápido demais!
Eduardo – E seu envolvimento emocional com eles acaba acontecendo, de uma forma ou de outra…
Dora – É… Porque aqui é assim. Aqui a gente conhece. A média de permanência na Edisca é de cinco anos. É um tempo longo. Acho que talvez um pouco maior do que a universidade de vocês. E eu acho isso bom, porque a educação precisa de tempo para que ela aconteça.
Então, quando um menino passa um período desses, eu sei o nome dele. Eu sei que ele gosta de macarrão, sei que ele gosta de flor azul, sei que o nome da mãe dele é Josefa, sei que ela perdeu o marido… Eu sei da história dele. Então, não é um número numa caderneta, sabe?
Eduardo – Tem um rosto e uma identidade.
Dora – É. E tem carinho também. E eu sei o que ele tinha de bom. Eu sei por que aconteceu desse jeito. Se você entrasse no lugar onde esse menino morava... Ele era criado pela avó. Essa avó, eu acho que criou nove netos. Dona Diana. Uma fome braba, meu irmão! Uma fome braba. Casa de barro. Latrina fora de casa, tá entendendo?
Então, assim, quando você entra em um lugar desses e vê a escassez, vê a ambiência, vê… Algumas coisas parecem que já estão... E intervir nisso é muito difícil. São muitos aspectos. E esses meninos não moram na Edisca. Eles vêm três vezes por semana à Edisca, passam uma tarde ou uma manhã. É muito pouco tempo contra tantas outras circunstâncias e assédios e…
Eduardo – E para ter fé que a Edisca funcione, é preciso ter esperança. De onde vem? Como funciona isso diante da visão de quadros tão desoladores?
Dora – Não, a esperança tá neles! Porque não sou eu quem faço isso. Eu ajudo. Eu crio uma circunstância favorável, propícia. Mas o milagre é realizado por eles. Isso é uma coisa que eu brigo há vinte e oito anos para tentar tornar visível.
Eu, sinceramente, não sei se vocês já foram a um espetáculo da Edisca. Eu, quando vejo um espetáculo da Edisca – obviamente sou suspeitíssima – mas eu vejo, assim, uma dignidade imensa naquelas criaturas! E uma mostra absolutamente tangível do capital social que existe nas periferias. E essa, por exemplo, é uma das minhas… Eu sou uma mulher muito ambiciosa nessa dimensão: essa é uma das minhas grandes ambições. É fazer com que essa sociedade enxergue isso.
Porque, na hora que você vê... Pensar que a favela, que a periferia, tá lotada de marginal é uma sacanagem, é um absurdo, isso é uma mentira! As periferias, as favelas, estão lotadas de gente boa pra caramba! Gente que dá de dez a zero em nós aqui “tudo” junto! O nível de solidariedade, de generosidade… pode “implicar”! Nós aqui, “mané”, não chega perto! A fibra daquele pessoal pra se mexer, a resiliência… É um negócio, assim, impressionante!
Eduardo – Criatividade…
Dora – É! Tudo! E, na verdade, o que eles precisam são oportunidades reais. Agora, meu irmão, é claro que essas oportunidades têm um tempo. Se você pensar, por exemplo, em educação infantil, sabe que algumas têm um tempo em que é mais favorável à absorção, pela criança, daqueles signos.
Não quer dizer que ele não vá aprender depois, mas ele perdeu um momento precioso. Se você viajar entre quatorze e dezessete anos para morar um ano em qualquer país do mundo, você volta falando igual a um nativo. Se você fizer essa viagem aos cinquenta anos... quer dizer que você não vai aprender a falar? Vai. Mas que nem nativo, nunca! Por conta dessas famosas janelas que – quem leu orelha de livro de pedagogia – sabe que têm tempo. É que nem remédio: existem algumas coisas que têm prazo de validade. E, nesse sentido, a gente tem perdido janelas preciosíssimas.
Uma vez, eu estava dançando em Paris, e o embaixador do Brasil na França me convidou para tomar um café. Ele foi ao espetáculo e, no outro dia, me convidou. Esse embaixador, da época, tinha um background muito ligado à tecnologia. Ele tinha sido convidado ao Brasil para alguma experiência ligada a essa coisa de grandes computadores, informática, não sei para onde, não sei o quê…
E ele me contando essa história. E eu conheço esse lugar para onde ele foi, já passei por lá algumas vezes. Alguém aqui já foi à Cracolândia, em São Paulo? Eu já fui. Então, é um negócio, assim, impressionante. E destruidor! Você passa um mês adoecido. Que não tem absolutamente nada a ver com moral. Não é isso. É com a circunstância humana mesmo. É uma coisa terrível.
E ele chegou para essa reunião, ele teve que passar pela Cracolândia. Começou a reunião, eu disse: “Olha, eu não vou discutir computadores!”. E ele disse: “Dora, se a gente lançasse mão da mais elevada nanotecnologia existente no planeta, para fazer algo próximo ao cérebro humano – e ele disse percentualmente, algo assim, três, quatro por cento – precisaria de um computador que seria maior do que o planeta Terra.”
Então, quando a gente não cuida dessas máquinas preciosíssimas que são os seres humanos, e deixa naquela situação, eu me nego, eu me recuso a estar pensando em máquina! Que, se você comparar, não chega perto. E a gente tá perdendo “um monte”!
O nosso estado aqui, sabe? Aqui se mata menino como se mata frango! São impressionantes os índices! Eles se matam entre si, a polícia mata! É um verdadeiro genocídio! E uma das coisas que mais me impressiona é como ninguém se importa com isso!! Eu não entendo como é que uma pessoa pode abrir um jornal no domingo e ver o número de mortes, tá entendendo?
E eu sei quem são essas pessoas! São eminentemente meninos, pobres, pardos, da periferia, semianalfabetos, sem perspectiva, sem instrução… Sem a menor condição de entrar no mundo produtivo. Não tem como! Eles não têm habilidade alguma! E isso é outra sacanagem que a gente faz.
E isso não é problema de governo! A nossa sociedade perdeu tempo completamente estratégico com essa balela, conversa pra boi dormir, de que esse problema é do município, é do governo, é do presid… Não é! Existe uma dívida social. Precisa ser paga. E é responsabilidade minha, sua – aponta para os estudantes ao redor da mesa de reuniões –, sua, sua, sua!
O que aconteceu com a gente?! Por que a gente perdeu a capacidade de perceber o que é uma família expandida?! Por que é que um menino de rua não é mais problema meu? Eu vejo esses meninos como meus filhos! E não falo isso de forma charmosa para fazer uma fala bonitinha, não! Eu vejo desse jeito mesmo! E eu vou às últimas circunstâncias em defesa dessas criaturas, porque alguém tem que ir!
O mundo está desabando! A gente vive uma crise planetária! E as pessoas não saem de uma vidinha umbilical, mesquinha, pequena. Pobre pra cacete! Eu fico desesperada. Como não afeta? Como… pausa, bastante emocionada. É impressionante…
“Aqui se mata menino como se mata frango! São impressionantes os índices. Eles se matam entre si, a policia mata. É um verdadeiro genocídio!”
Gambit – É um processo de desumanização que as pessoas vivem, né? Não são seres humanos, são outros… Dá só pra higienizar. Limpar, matar, tirar daqui. “Eu só não quero ver ou saber que acontece…”
Dora – Se fala... é até uma coisa, assim, meio fora de época, né? A questão dos invisíveis. Uma vez, eu tava indo pro teatro e parei num sinal. Uma criança muito pequena – era tão pequena, que eu olhando de cima da porta do carro, eu não a via. Até ela se pendurar pedindo dinheiro. Eu não dou esmola pra criança de forma alguma.
Peguei na cabeça dele… Quente!! E sujo e duro, o cabelo dele. “Vá pra casa, meu filho, não sei o quê, parará...” Conversei um pouco. Quando o menino se afastou… Essa criança estava completamente despida! E descalça! Um absurdo! Um absurdo!
Eu passei a temporada toda contando essa história, assim, revoltadíssima! E ele era de um dos bairros que eu atendia. E eu dizia: qual é a diferença que tem desse menino que tava ali, em circunstância de semi-rua, extremamente vulnerável, extremamente exposto, nada protegido… e daquelas meninas que estavam no palco? E a plateia chorando, emocionada, e não sei o quê! É isso… É isso. Tom de voz abalado.

Eduardo – Apenas uma oportunidade, né?
Dora – A circunstância, né? Assim, aquele menino estava no sinal. Aquela menina, com a mesma idade, do mesmo bairro, com a mesma problemática social, estava em um palco. Mais cuidada, mais protegida, fazendo uma coisa bacana… Mas, assim, é a mesma coisa: deveria comover tanto quanto.
Mas é duríssimo, assim… A nossa sociedade não é moleza, não, galera.
“Eu vejo esses meninos como meus filhos! E não falo isso de forma charmosa para fazer uma fala bonitinha, não! Eu vejo desse jeito mesmo.”
Eduardo – Mas você encontrou algum pai que cultivava o filho na rua, no sinal, que tentou mudar isso?
Dora – Eu não sei te dizer. Mas, assim, só faz o teste para a Edisca se o menino estiver comprovadamente matriculado na escola. A Edisca é no contraturno. Então não há tempo. A exigência da Edisca é muito alta. A gente tem hoje 92% de promoção de série. Entenda que a gente alfabetiza menino aqui dentro. Agora, tu acha que isso acontece do nada? Há muita exigência. Se ele não estudar, ele não consegue. Se ele não jogar duro, se a família não for parceira, ele não fica. A Edisca não é exatamente gratuita. Aqui não se pede dinheiro, ninguém paga nada para estudar aqui. Mas é uma escola muito exigente. E é exigente porque eu acredito que a exigência é uma das formas de respeito ao humano. Você só exige de quem você acredita que tem para dar. A não exigência, para mim, se traduz em negligência. Então, a Edisca exige demais.
“[A Edisca] é uma escola muito exigente. E é exigente porque eu acredito que a exigência é uma das formas de respeito ao humano.”
Eduardo – Ok, passam cinco anos na Edisca. E depois, vem o quê?
Dora – Eu vou te dizer… Eu não sei… Essa é uma pergunta recorrente: “O que acontece com o menino da Edisca depois que ele sai?”. A vontade que eu tenho é de responder: “Eu sei lá!”.
Eduardo – É porque a gente quer saber se tem algum programa…
Dora – Não. Eu já tive. Uma época eu tinha dinheiro e mantive uma pessoa dentro das comunidades. A função desse profissional era estreitar essas relações, levar para a comunidade... Esclarecer o que é a Edisca, qual é a missão da Edisca, quais são as oportunidades que tem aqui, o que a Edisca não faz de jeito nenhum, o que pode fazer… E também trazer das comunidades quais eram os desafios que estavam rolando, quais eram as demandas, as expectativas. E, nisso, acompanhava os meninos que tinham passado por aqui, os egressos da Edisca.
A gente tem visto os meninos da Edisca… A grande maioria, pelo menos nos últimos tempos, que tem saído da Edisca, sai para a universidade. Então, assim, se o menino passou aqui seis anos, sete anos, está trabalhando, entrou em uma universidade, eu digo assim: “Para mim, sinceramente, é missão mais do que cumprida”. Alguns não saem para a universidade, mas vão trabalhar em banco. Outros estão trabalhando com dança, outros estão trabalhando em projetos sociais… Hoje, as escolas mais tradicionais de dança da cidade têm menino da Edisca dando aula, ou dançando, ou coreografando – acho um luxo! Também criando seus projetos sociais. É maravilhoso ver.
Eduardo – Foram inspirados…
Dora – É, eu acho que… É! O último [aluno] nosso, que é o Esdra, ele saiu daqui tem menos de um ano. Chegou aqui com sete anos de idade. E ele saiu para fazer uma audição. Foi uma loucura, porque ele escondeu de mim. Fui ajudar na última hora. Consegui mala dada por alguém, roupa de frio de outro, arrumar a bolsa desse menino para ele fazer essa audição. E tem menos de um ano e hoje ele está dançando na Companhia do Palácio das Artes, em BH (Belo Horizonte), que é uma tremenda companhia. Então, assim, missão cumprida, né não, meu irmão?

Davi – Ou seja, a Edisca é como uma semente, é realmente para mudar vidas.
Dora – Não! A Edisca, eu penso nela assim… Eu ambiciono que a Edisca seja um degrau, seja um patamar ou um trampolim. Alguma coisa, alguma energia, alguma vivência, sabe? Que possa impulsionar esses meninos para adiante. Que a Edisca possa desvendar para eles o valor que eles têm, o potencial que eles são.
Uma vez eu estava aqui, recebendo, a pedido da Viviane Senna, um grupo com cinco pessoas muito, muito ricas. Eram todos estrangeiros. Eles eram filantropos. E a Viviane achou que o projeto que eles deveriam conhecer era a Edisca.
Coincidentemente, a gente também estava envolvido com um projeto com o Bill, que é um grande amigo e conselheiro da Edisca. O Bill é norte-americano, e ele trazia meninos das mais variadas nacionalidades, das universidades mais fantásticas dos Estados Unidos, para cá. Para ficar em vários projetos e na Edisca também.
E nesse dia, a gente estava ali na cozinha, e tinham essas pessoas muito ricas. Esses meninos da universidade… Tinha indianos, tinha, bom, várias nacionalidades. Eu tive, por dez anos, o IBEU funcionando dentro da Edisca, de manhã e à tarde. Então eu tenho vários meninos que são fluentes em inglês. Então, era um almoço assim superlegal.
De repente, uma dessas mulheres se levantou e disse: “Cara, eu tô vivendo uma utopia na terra! Eu nunca estive em um lugar em que estivessem, ao mesmo tempo, ricos e pobres, pretos e brancos, várias línguas estrangeiras sendo conversadas, gays e héteros...”. Assim, era uma diversidade imensa, realmente! Em uma amistosidade que era muito mais do que uma amistosidade. Era uma festa! Era uma alegria! Todo mundo muito igual, todo mundo comendo junto.
E é isso que eu penso que a Edisca é. Pelo menos, pro meu olhar, para mim, é algo assim: uma utopia na terra. É revolução em ato.
Gambit – Por mais que a gente tente, não conseguimos fugir do assunto “Edisca”. São muitos anos de projeto e uma dedicação ininterrupta esses anos todos. Teve alguma coisa na sua vida pessoal que você acha que o projeto te impediu, ou que você teve que desistir, abrir mão, para poder tocar o projeto?
Dora – Eu acho que minhas filhas. Minhas filhas têm muitos problemas… Uma vez eu cheguei em casa e minha filha disse que ia me denunciar para o Conselho Tutelar. Porque eu era uma mãe ausente. Eu trabalho muito. Sempre trabalhei muito. Gosto de trabalhar, amo o que eu faço. E, como meu trabalho, além do dia a dia, envolve espetáculos, então… A gente faz uma média de quatro apresentações por mês. A gente dança muito. Não em temporadas nossas. A gente vende espetáculos para congressos, seminários e não sei o quê. Então era muito comum eu trabalhar dois expedientes na escola e, à noite, estar no teatro fazendo apresentação.
Uma vez eu cheguei… Fiquei muito triste, por um lado, porque de fato fiquei muito tempo fora de casa. Mas eu achei ótimo ela saber que tem o Conselho Tutelar, que ela poderia acionar se eu fosse uma mãe malvada…
Eduardo – Aí resolveu parar um pouquinho…
Dora – Não, nunca parei! Eu tenho duas filhas. Eu tenho 60 anos, tenho uma filha de 21 anos e uma filha de 12. Todo mundo acha estranho. Mas é porque minhas duas filhas são adotivas. Eu tenho uma filha branca e uma filha negra. Ambas chegaram na minha vida com dias de vida. Sabe o que é uma coisinha muito pequena, sozinha? E foi uma coisa assim…

Eduardo – Como elas chegaram?
Dora – Cara, se eu lhe contar, você vai pensar que eu sou um piadista. Mas não foi… Eu nunca quis ter filhos. Eu nunca engravidei na minha vida. Não tinha vontade de casar, não tinha vontade de ter filhos, não tinha vontade de ter gatos, não tinha vontade de fazer nada disso. Quando foi um dia, eu comecei a me achar estranha. Eu vi uma mulher grávida no shopping, eu olhei para essa mulher e saí perseguindo essa criatura e, depois, me vi entrando em loja de bebê. Sabe aquela coisa do relógio biológico? Pós-quarenta, bem pós-quarenta! E o fato é que dentro já tinha um “negócio”.
Uma pessoa ligou para mim dizendo: “Olha, eu tenho uma criança, uma menina, que está sem família. Você quer essa criança?”. Eu perguntei: “É homem ou mulher?”. Porque eu só queria se fosse menina. Eu não queria se fosse homem, porque eu não me sinto capaz de criar um homem. Me sinto capaz de educar uma menina. Aí eu disse: “Deixa eu contar. Um, dois, três, quero!”. Não é piada, foi desse jeito.
Eu disse: “Olha, eu tenho que ir…” Era um jantar de um parceiro da Edisca, um parceiro muito importante para a gente. Era aniversário dele. Eu não podia não ir. Eu falei: “Olha, eu tenho que ir para esse jantar de aniversário dessa minha amiga, mas às dez horas estou em casa.”. Aí, ninguém sabia, e dez e meia… Eu era mãe. Eu não tinha mamadeira, eu não tinha leite, eu não tinha um pano. Nada! Eu não tinha nada. E era feriado prolongado. O primeiro banho dela eu dei na pia do banheiro com água morna na cuscuzeira. Passou a noite enrolada em um lençol, depois fazia xixi, enrolava em uma toalha, acabavam as toalhas, enrolava em camiseta.
Eduardo – Ter cuidado da irmã ajudou muito nessa hora…
Dora – Ah, mas eu sabia cuidar de criança muito bem. Eu gostava!
Gambit – E como foi a chegada da segunda?
Dora – Do mesmo jeito. Uma ligação também. Nove anos depois.
Gambit – Vocês estão se acostumando muito a ligar para mim quando encontram uma criança!
Dora – Mas você sabe, é verdade! Eu lamento muito ter descoberto esse caminho da maternidade já com a idade tão avançada. Se eu tivesse experimentado isso mais jovem, eu te juro, eu teria umas nove filhas! Porque foi muito bom. Trabalho pra caramba, desafiador, mãe ausente, menino que bota boneco hoje, me cobra tudo, meu Deus do céu! Mas, assim, foi extraordinário!
“Eu lamento muito ter descoberto esse caminho da maternidade já com a idade tão avançada.”
Gambit – Te transformou, a maternidade?
Dora – Muito!
Davi – Mas você acha que se tivesse sido mãe mais jovem, o futuro da Edisca seria diferente de alguma maneira? A tua dedicação com o projeto teria mudado?
Dora – Eu acho que sim. Eu acredito muito que as coisas são o que têm de ser. Eu acredito em Deus, por exemplo. Eu não tenho religião exatamente. Mas eu acredito em Deus. Acredito nos Orixás demais! Fiz o santo agora há pouco (passa a mão na cabeça raspada). Tô apaixonada pelo Candomblé. Mas, assim, não frequento, não professo dentro da escola. Mas eu acredito que tem algumas coisas que estão em uma dimensão que eu não alcanço, que a gente não alcança. Essa dimensão é real.
E acho que, assim, não tudo. Eu não deixo tudo nas mãos só dos Orixás, ou de Maria, porque eu também sou mariana. Eu faço a minha parte. Mas acho que tem algumas coisas que fogem disso. Tem coisas que precisam acontecer. Assim, fica mais fácil a gente aceitar, tá entendendo? Eu entrego, eu aceito, eu agradeço, sabe aquelas coisas?
Suyane – Hoje em dia, que as suas filhas são mais maduras…
Dora – Não! Eu tenho uma menina de doze anos! Sessenta anos, tenho filha de doze. É uma diferença geracional imensa! Só falto ficar doida!
Suyane – Você sente que elas entendem? Até mesmo a menina de doze anos, você acha que ela entende a sua dedicação ao projeto e à sua vida, já que você é mãe, trabalha…
Dora – Acho que não. Acho que eu tenho uma dívida, sim, com elas. Minha filha mais velha já falou muitas vezes sobre isso. Eu digo assim: eu não fui uma mãe irresponsável. O que me salva é isso. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. O que eu não fiz é porque eu não podia, eu não tinha para dar. Eu acho que eu faltei mesmo em alguns momentos, mas eu estive na vida de tantas outras meninas! E acho que foi importante eu ter estado.
Eu não sei se elas vão me perdoar, se elas vão compreender no futuro… Eu não sei! Mas foi o que eu pude fazer. Eu jamais seria doméstica! Se eu tivesse largado tudo e fosse me tornar uma housekeeper (dona de casa, em tradução livre), eu teria sido uma mãe pior, porque eu teria sido muito infeliz! Eu não nasci para ser isso…
Gambit – A mais velha já quis procurar as origens dela?
Dora – Não… Eu lembro – e isso foi muito emblemático – eu estava com minha filha em uma festa infantil. Ela chegou, devia ter uns nove anos, com um monte de crianças. Ela sempre foi muito líder… “Mamãe, mamãe, mamãe!” – com um monte de criança atrás. “Eu não sou adotada?” Eu disse: “É!” “Eu não disse que eu era?!” (risos). E saiu correndo!
Ela nunca quis. Não houve um dia em que elas “souberam” que são adotivas. Eu bordei livros com a história dela, eu cantei músicas que contavam a história dela. Então, elas sempre souberam que eram adotadas.
Nós não falamos muito sobre essa questão. Já fiz matéria sobre adoção por conta da causa. Eu acho que toda família deveria adotar uma criança. E acho importante dar esse depoimento. Mas a adoção não é um tema em encontro familiar nenhum na minha casa. E olhe que minhas filhas – como eu tô falando, isso é verdade – eu tenho uma filha hiper branca e tenho uma filha negra. Os cabelos “dessa altura”, linda! Linda, inteligentíssima.
As duas são super artistas, desenham. Uma é bagunceira, e a outra é super organizada. E eu aprendo muito com essas duas almas, com esses dois seres!
Eduardo – Sobre a adoção, o processo foi tranquilo? Como foi o processo?
Dora – Foi super tranquilo porque as crianças estavam em circunstâncias de exposição. Minhas filhas não vieram de um orfanato ou de um abrigo. Então, quando a criança está exposta, é muito mais rápido.
Pra mim, foi uma experiência fantástica. Eu imaginava que ia ser uma coisa complicada. Eu fui ao juiz, fiz todo o processo bem certinho. O texto do juiz dando a mim a maternidade da Isabel, a forma que ele falou… eu chorei tanto! Ouvindo ele dizendo que “a partir de agora” – porque eu tenho a pulseirinha – “Sejo Andrade, filha de Dora…” Ave Maria! É muito lindo!
Foi super tranquilo, foi rápido. E isso tinha a ver com a circunstância das crianças.
Suyane – E sobre essa questão de ser mãe solo, logo de início assim, receber uma ligação… Porque foi um “parto” muito rápido!
Dora – Mas eu acho que tinha que ser, senão eu não teria coragem, tá entendendo? Mas, assim, depois eu me casei. Meu primeiro companheiro, eu não casei de verdade, tive uma união estável. Vivi com esse homem dezesseis anos. Quando eu tive a Isabel, eu estava separada dele. Depois ele veio a adotar a Isabel. Quando eu tive a Doralice, eu estava separada dele de novo. E depois ele adotou a Doralice.
Então, o Gilberto – o nosso relacionamento não deu certo – está no segundo casamento. Eu tenho um segundo casamento. Somos super felizes nos nossos casamentos. Mas essa coisa assim… ele tem sido um pai extraordinário para as meninas. Moramos em casas separadas, etc. e tal, mas ele é fantástico demais!
Aliás, as minhas filhas foram adotadas por várias pessoas: pelas avós, pelos tios… Processo total.

Calianne – Quando a gente estava pesquisando nas pré-entrevistas, vimos que você já tinha dado muitas entrevistas, falava com muita gente, principalmente sobre o projeto Edisca. Quando perguntamos ao seu irmão sobre alguma curiosidade, ele falou que você gosta muito do seu jardim.
Dora – Muito! Muito!
Calianne – E aí, eu gostaria de saber como é que surgiu esse interesse e o que é que você planta lá… (risos)
Dora – Eu sou design de interiores. Adoro ambientação e adoro paisagismo. E eu não moro, eu me escondo. Eu moro em um lugar que é meu sítio. Uma “casa-sítio”. Moro há muitos anos nessa casa. Quando comecei a cuidar dessa casa, a fazer essa casa, eu não tinha muito dinheiro. Quando eu não tinha dinheiro algum, eu comprava uma muda de planta e botava no chão. E vi como essa coisa era bacana.
Então, assim, eu não tenho muita vida social. Eu trabalho muito, fico muito tempo fora de casa e todo tempo livre que tenho, eu tô em casa. Gosto de receber gente em casa e gasto muito tempo mexendo com planta. Porque me… não sei, acho que o contato com a terra me energiza.
Eu vivo sempre muito pra fora, muito tomada. Falando muito com pessoas que não me conhecem, que eu não conheço direito. E sempre enfrentando muito, muito problema. Todo dia eu tenho… tenho… Eu vivo brincando que eu mato cinco leões por dia e deixo dois amarrados para facilitar o dia seguinte, sabe? Não é exagero, irmão! Não é exagero! É desafiador.
Então, assim, amo esse lugar! Adoro ficar lá! E tenho também um cantinho na serra. Tenho um jardim lindo lá também. Quando eu tô lá, adoro. Chove… Eu chego na serra, o Júnior, meu caseiro de lá, ele pega – eu adoro tomar cerveja – então eu aviso que vou. Quando eu chego, ele tá com bota, um balde de cerveja… Eu já vou direto pra roça!
Se chover, eu fico na roça, sabe? Fico mexendo ali, boto aquele baldinho com cerveja na sombra, fico tomando cerveja e mexendo na terra… Às vezes ele vai me ajudar. Anoitece e eu só vou pra casa quando não enxergo mais um palmo na frente do nariz.
Gambit – Uma terapia…Dora – Hm! Adoro! Adoro!
Davi – E além dos jardins e da cerveja, o que é que te deixa leve na vida?
Dora – Cara, eu sou viciada em trabalho! Eu adoro trabalhar. Adoro! Adoro estar aqui na Edisca. Todo dia eu chego muito cedo. Eu acordo muito cedo. Acordo antes das seis. Levo minha filha para a escola e chego aqui na Edisca bem antes das sete horas. Seis e quinze, seis e vinte, eu já tô aqui.
E aí eu pego uma xícara de café e vou andar no jardim. A gente fez uma hortinha… Eu acredito em uma coisa que eu chamo de “educador passivo”. Eu acho que as coisas educam. Então eu fiz uma horta. Essa horta não alimenta tantas bocas, mas ela inspira. E a gente distribuiu sementes para que as pessoas pudessem ver como é uma horta, ver um tomate nascer, amadurecer, acompanhar.
Então eu fico olhando e eu vejo, todo santo dia, um tremendo privilégio trabalhar nesse lugar! Aqui eu vejo milagres acontecerem. Aqui eu encontro muita batalha, mas, pense! Já ouviu falar na boa luta? É a que eu tenho, irmão! Aí, assim, uma coisa que me deixa leve, que me faz um bem danado, é trabalhar! Adoro!
“Eu sou viciada em trabalho. Eu adoro trabalhar. Adoro! Adoro estar aqui na Edisca. Todo dia eu chego muito cedo.”
Gambit – Você vai a todos os espetáculos para assistir, sempre, ou prefere não ir? Ou só vai na estreia?
Dora –Não… Em temporada eu sempre estou, a temporada inteira. A não ser temporadas muito longas, ou então se eu tenho algum trabalho que, às vezes, tem um espetáculo à tarde, mas eu tinha algum trabalho importante, aí eu não vou. Mas normalmente eu estou.
Eu só não vou nas apresentações em seminários, congressos, porque senão eu não vou dormir direito em casa. Aí não dá, é muito tempo fora. Mas nas temporadas, sim. Faço questão de acompanhar. Eu gosto. Acho importante. Acho importante para o elenco a minha presença também. E… Pronto? Deu? (risos)
Félix – Eu tenho uma pergunta que pode parecer batida. Eu acho que você já respondeu milhões de vezes, mas, como foi a fundação da Edisca? “Aqui vai ser a Edisca, a Edisca vai ser isso, a Escola de Dança e Integração Social para Crianças e Adolescentes”?
Dora –Mas você tá falando do ponto de vista físico?
Gambit – Acho que ele tá falando do insight…
Dora –Não, não houve insight. A Edisca foi um acidente na minha vida!
Félix – Então como foi esse acidente?
Dora – Eu tinha um grupo de dança. Era o “Grupo de Dança Dora Andrade”. Eu tinha duas escolas, uma em Sobral, uma em Fortaleza, e tinha um grupo com a pretensão de fazer carreira profissional. A gente chegou a ganhar vários prêmios nos festivais no Nordeste, a gente ganhou um prêmio importante internacional, que possibilitou veicular nosso trabalho em Porto, Lisboa e Tondela – fiquei tão feliz com isso!
Aí surgiu uma oportunidade de fazer um trabalho na comunidade do Titanzinho. E eu topei. Mas eu topei achando que era uma temporada de trabalho. Eu pensava que ia passar uns dois anos ali. Aí eu montei uma escola dentro do Titanzinho e comecei a trabalhar.
E ali a minha vida mudou! Porque eu percebi uma coisa… Eu sempre fui uma professora muito dedicada, de turma de formação, de formação mesmo. Nunca gostei de dar aula de iniciação. Eu sou coreógrafa, então gosto de pegar um grupo e ir adiante, pra frente, e fazer coisa boa.
E aí o que acontece? Eu comecei a ver que aquelas crianças eram absolutamente talentosas. Era um negócio fora do comum! Mas havia um problema: elas não tinham frequência, não tinham assiduidade. Faltavam muito. Faltavam, voltavam… Aí eu fui atrás pra saber por que que faltava.
Aí, rapaz, quando eu comecei a entrar na vida das pessoas…Foi isso que me mudou. Não foi a dança, não foi a beleza dos meninos dançando. Foi quando eu comecei a entender a dor, a escassez, a ausência. Aí eu vi que se eu quisesse trabalhar com aquelas crianças, eu ia ter que mexer em muita coisa que não era dança.
Aí eu tive uma crise profunda. Pensei em parar tudo, porque achei que não tinha mais sentido eu continuar com o grupo profissional se existia tanta criança sem acesso. Eu estava privilegiando, investindo em quem já tinha acesso. Aí eu decidi fechar o grupo profissional e fundar a Edisca.
Isso foi em 1991.
Eu comecei a fazer um trabalho de mobilização social com as famílias. Comecei a estudar políticas públicas. Comecei a procurar entender a realidade para além da dança. E aí, pouco a pouco, a Edisca foi se desenhando como essa escola que vocês veem hoje. Aí surgiu uma oportunidade, de um projeto que foi o primeiro projeto nacional que eu consegui aplicar e aprovar, que chamava “Consolidação de Grupos Permanentes”. Então era uma perna do Ministério da Cultura, que financiava por um período de dois anos grupos com prioridade nas regiões Norte e Nordeste do país, que comprovadamente estavam em produção, que faziam espetáculos, que veiculavam esses espetáculos… E nós aprovamos.
Esse projeto assegurava tipo um salário mínimo para cada bailarino e um pouquinho mais do que isso para mestres e coreógrafos. A gente aprovou, celebramos e… o órgão foi extinto! Ou seja, não ganhamos nada!
Daí eu peguei o projeto e fui ao Governo do Estado do Ceará. Na época, o governador era o Ciro [Gomes]. E o Ciro resolveu apoiar essa iniciativa. Mas não era suficiente para ele só o grupo permanecer… Produzir imagem. A gente tinha que ampliar a contrapartida.
Como eu já tive na minha vida toda trabalhos na área social, e aquilo me agradava muito, eu pensei em trabalhar com as crianças do morro Santa Terezinha. Nessa época o nosso estúdio era na praia de Iracema. Era na Rua Dragão do Mar com Senador Almino. Era numa esquina.
Nessa época, estava sendo implantado no morro Santa Terezinha o primeiro ABC. Que era uma coisa revolucionária, tinha computador. Eu nunca tinha visto um computador. Lá tinha. Porque foi feita uma pesquisa com o Governo do Estado, acho que com parceria com o UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), se eu não me engano. E eles mapearam as áreas mais problemáticas da sociedade. E o morro Santa Terezinha era uma delas.
De lá, o quadro era de meninos e meninas que eram filhos ou netos de pescadores. Ali em cima é uma colônia de pescadores. Depois houve uma especulação imobiliária violentíssima por conta da vista… Começou a ter um monte de restaurantes por ali. E os pescadores venderam suas casas e começaram a ocupar a encosta do morro.
Lá se detectava uma migração dessas crianças para a praia. E a praia era – e ainda é – um espaço de muito risco pessoal para as crianças. Juntando a história dessa pesquisa (por isso esse primeiro ABC foi implementado no morro Santa Terezinha), essa área não foi aleatória a escolha. Era para tentar gerar outras animações, outros atrativos para aquelas crianças e adolescentes.
E como geograficamente era perto do nosso estúdio, a gente pegou esses meninos. Peguei cinquenta meninos. Nove meses depois, eu tinha fechado as duas escolas de dança, tinha desmontado o grupo e estava estreando o primeiro espetáculo da Edisca já com noventa crianças. O nome dele era “O Maior Espetáculo da Terra”.
Dois anos depois eu tinha duzentas crianças, e hoje a gente atende algo em torno de quatrocentas crianças. Fora suas mães, que a gente tem um projeto bárbaro que é o “Vida Feminina”, aquele que eu falei que ganhei o “Prêmio de Igualdade Entre Gêneros”. Lembra que eu falei no começo da nossa conversa?
É por conta desse projeto, que é um projeto que envolve a mulher responsável pela criança que está aqui. Não necessariamente a mãe biológica. Muitas vezes é a mãe, a avó… A mulher que é responsável pela criança.
Gambit – A gente tá quase encerrando. Mas tem duas perguntas que eu acho que ainda precisava fazer. A primeira é: outras pessoas do seu núcleo familiar trabalham com você aqui no projeto? E eu queria saber como é trabalhar com a sua família. E a outra é se você pensa em se aposentar, e quando, e se tem algum sonho que você ainda precisa realizar…
Dora – Eita, uma tripla! (risos). Bom, começar com o fato da minha família trabalhar comigo. Cara, para mim foi a maior bênção. A Edisca não teria acontecido se não fosse a minha família. A Edisca, quando surgiu, era algo profundamente diferente de tudo isso. Não havia dinheiro algum. Então, assim, quem dava aula de graça era minha mãe, era minha irmã.
A minha mãe comprava umas bacias de verduras baratas que ela achava não sei onde, e ela descascava e fazia sopa para alimentar as crianças. Quer dizer, só foi possível dar o start porque tinha pessoas do meu lado comprometidas com o social, comprometidas com a arte, reconhecendo o valor da educação e dispostas a fazer porque a gente nem sabia se isso ia virar uma organização social. A gente queria fazer aquilo! Era só isso.
E foram pessoas muito inspiradoras. A minha mãe é culpada de tudo isso! Na raiz, isso aqui tem muito a ver com ela. Minha mãe é uma educadora de mão cheia. A vida toda trabalhou com educação. A Cláudia (irmã de Dora) é formada em Letras, mas é uma tremenda gestora. Tem dois MBAs em gestão e cuida dessa parte do financeiro. Eu assino o cheque sem olhar muito porque ela filtra tudo que vem para mim. E ela faz o equilíbrio.
Eu sou muito no sonho, no ar. E ela é terra total. Então, a gente junta: eu arranco ela um pouquinho desse chão, e ela me puxa um pouco desse ar. Acho que nós somos complementares.
Gilano também… Eu acho que praticamente todos os espetáculos da Edisca, exceto “Jangurussu”, os demais nós coreografamos juntos. Mas você olha um espetáculo da Edisca, eu acho que não dá para dizer o que foi que eu coreografei e o que foi que ele coreografou. E nós temos processos criativos profundamente diferentes!
Eu sou uma neurótica trabalhando. Eu crio todos os movimentos. Se mexe um dedo, eu crio! Tem contagem, não sei o quê… O Gilano, não. Ele faz um trabalho onde envolve o bailarino na criação. Ele dá os moldes, ele provoca. Os meninos criam, ele pega coisas: “Isso é bom, isso não é!”, separa e edifica coisas maravilhosas.
Eu já trabalho de uma forma completamente diferente. Mas quando eu vejo o espetáculo montado, eu não acho que haja ruptura, sabe? “Dora – Gilano – Dora – Gilano”. Eu acho que ele funciona muito bem. Então, eu só tenho a agradecer demais! E reconhecer a importância que foi, na minha vida e na vida da instituição, ter podido contar com essas pessoas.
“A Edisca não teria acontecido [se] não fosse a minha família.”
Dora – Com relação a sonho… Eu ando com uma vontade danada de ter tempo livre. Ainda não consegui, não sei quando vou conseguir. Mas isso é uma coisa que… é curioso, assim, quando você me perguntou isso, foi a primeira coisa que veio… Eu ando valorizando muito ter tempo. Porque às vezes eu levo muito trabalho para casa. É tempo para minha alma, tá entendendo? É tempo para não fazer nada.
Só para vocês terem uma ideia, vou contar, assim, um briefing de como está minha vida agora: dia trinta deste mês [outubro de 2019] a gente abre a loja Estrelare. É uma startup que eu criei em parceria com o shopping RioMar. É uma loja que entra em operação… Essa é a terceira operação dela. A primeira vez a gente trabalhou três meses, depois eu achei que um formato mais enxuto, dois meses, era melhor. Só que eu resolvi que esse ano eu iria mudar.
Então eu chamei uns designers que eu considero superinvocados. Aquela galera que já expôs em salão de Milão, aqueles meninos cearenses, novos, “escândalo”, tá entendendo? Juntei essa galera com um monte de artesãos do Sertão. Eu tenho um que está trabalhando com mulheres que não moram nem numa cidade. Moram numa “tripa”, numa beira de estrada.
A minha ideia é pegar esses meninos novos, bem formados, criativos, pegar um artesão maduro e botar essas criaturas para contracenar. Para revitalizar, sabe, o processo da criação. Para quebrar paradigmas… Cara, isso tá me dando um trabalho que vocês não têm ideia.
Só que fora isso eu tenho mais trinta… que a gente chama de criativos. São pessoas que têm uma marca, têm uma loja, como a Joy, da Luciana. Ela entra, cria produto pro Estrelare, e eu também tenho que cuidar disso. E eu decidi também que todos os móveis eu ia fazer em parceria com o Emaús (ONG com fins filantrópicos fundada em 1949 na França, com atuação em vários países), porque eu queria que tivessem vários projetos sociais dialogando. E que esse bem pudesse envolver outras organizações.
Então eu estou criando os móveis, desenhando, acompanhando o marceneiro! Vocês sabem onde é o Emaús? Pois é! Pois eu me “estabaco” daqui para lá, certo, para ficar desenhando esses móveis e acompanhando o marceneiro. Eu tô fazendo todo o mobiliário da loja que vai ser vendido. Pensando que, com isso, a gente possa gerar um caminho de um negócio de impacto.
Esses móveis estão ficando bacanas. Não foi cortada uma árvore. Tem duas organizações e “parará”. Mas eu também tô em parceria com o Bom Jardim, com o padre Rino. As mulheres vão fazer a geleia que eu vou vender no corporativo. Eu sou assim: parece que não tá fácil, eu resolvo complexar mais ainda a minha vida.
Então eu estou há menos de um mês… Hoje é o quê? Quatro, cinco? [do mês de outubro] Dia trinta eu inauguro essa loja. Só que, paralelo a isso, eu estou abrindo uma fábrica de biscoitos. Estrelare também. A Lia Kinderré, que é uma chef patisserie, dona da Suvré, criou uma receita de biscoito para a Edisca e eu tô às voltas decidindo a embalagem desse biscoito.
Eu vou comercializar no Estrelare ou botar para vender no São Luiz [supermercado], vou atingir escala e ainda vou fazer isso pro Iprede (Instituto da Primeira Infância). Amanhã, às oito horas da manhã, eu tenho reunião com o Iprede para conhecer a cozinha deles e a Edisca construir um caminho bacana, mas poder trazer outras organizações. O Iprede nem precisa, que tá bem para caramba. Mas o Bom Jardim precisa… Enfim! Eu dou um jeito, irmã, de complicar minha vida para caramba!
Só que, paralelo à loja — nesse modelo que eu tô te falando — com trinta criativos, que são trinta pessoas donas de marca, com mais dez designers, cada designer com pelo menos cinco artesãos (aí já são cinquenta homens e mulheres do campo), e a fábrica de biscoitos que vai ser feita por mulheres mães de meninos da Edisca, para terem renda e trabalho digno… Eu também tenho uma temporada agora em novembro do Duas Estações.
A gente vai fazer um Fantástico também. Um quadro no Fantástico chamado “Mulheres Fantásticas”. O título me constrange de certa forma. Mas é bem bacana, é bem sensível. Só que isso gasta um tempo danado. Inclui viagem também. Vou ter que me deslocar, vou ter que receber equipe de fora. E tudo isso gasta tempo. E tudo isso é importante. Porque é importante para a Edisca estar no Fantástico. É também uma matéria muito mais voltada para mim como pessoa, mas é óbvio que o pano de fundo é o trabalho que a gente faz.
Então, se você pensar num espaço de um mês, um mês e dez dias, e ver o tanto de coisas que eu tô fazendo… Só que eu também tô num momento de captação. Eu tenho dois projetos para aplicar. Um deles vence dia seis [de novembro]. Eu tenho que aplicar esse projeto ainda. E tem o dia a dia da escola! E eu tenho já já que pegar minha filha, que tem doze anos. E ela tá em período de prova… Enfim! A minha vida… A minha vida é uma loucura!
Gambit – Quer dizer que se aposentar, nem pensar, então?
Dora – Não, não penso em aposentadoria, não. Eu quero morrer trabalhando muito. A não ser que isso não esteja reservado para mim, né? Mas, se eu puder optar, eu quero morrer na luta.